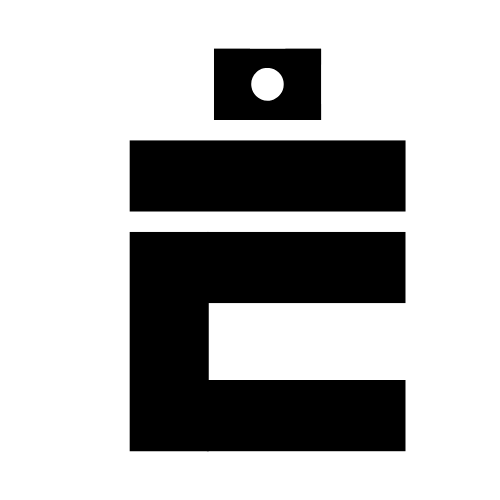Com a estreia do novo “Frankenstein” dirigido por Guillermo del Toro na Netflix, o interesse pela obra de Mary Shelley volta ao centro do debate cultural — e isso não deveria ser tratado apenas como um revival cinematográfico. Essa história carrega um peso que poucas narrativas literárias possuem: ela não apenas gerou um mito moderno. Ela inaugurou uma lógica de imaginação que estruturou um gênero inteiro.
Quando “Frankenstein” foi publicado em 1818, o termo “ficção científica” ainda não existia, mas o gesto intelectual de Shelley já era o primeiro passo: observar a ciência real do presente, projetar suas possíveis consequências e dramatizar o impacto humano desse salto.
A Europa vivia o fascínio pelas novas descobertas elétricas; o bioeletricidade inflamava a imaginação dos círculos ilustrados; a ciência começava a se consolidar como campo experimental moderno; filósofos naturais testavam hipóteses que pareciam tocar o limiar da vida. Shelley não escreveu de fora desse ambiente. Ela escreveu de dentro dele. Por isso, “Frankenstein” não é um produto do sobrenatural — é um produto da especulação científica. E o gênero que hoje chamamos de “ficção científica” começa nessa página.
O experimento como motor narrativo
O elemento central do romance não é o mistério gótico, nem a presença do fantástico. É o experimento. Victor Frankenstein não é um feiticeiro romântico. Ele é um pesquisador. Ele lê tratados, compara autores, formula hipóteses e toma decisões técnicas apoiadas em referências que existiam de fato.
Shelley menciona Erasmus Darwin, Humphry Davy, Luigi Galvani. Ela situa seu protagonista numa constelação real de nomes que moviam o pensamento científico europeu.
A autora não descreve o procedimento de animação do corpo com precisão instrumental — e isso é irrelevante — porque o ponto central do romance não é o “como”, mas o “por quê”. A narrativa não busca explicar o método técnico, e sim o gesto mental: o cientista ultrapassando os limites do conhecimento disponível. Esse movimento — extrapolar a ciência existente para imaginar um passo seguinte — é o fundamento do sci-fi moderno. Em “Frankenstein”, a ciência não é ambientação superficial. Ela é a estrutura dramática. O monstro não é produto de magia: é a consequência de um experimento.
Shelley antecipa Verne e Wells em mais de meio século. Ela se adianta, com impressionante clareza, ao futuro do imaginário científico: a literatura como laboratório do possível.
A consequência ética
Mas talvez a contribuição mais profunda de Shelley não esteja na criação artificial, e sim na forma como ela problematiza a responsabilidade moral que acompanha o ato de criar. Victor Frankenstein se horroriza com o seu próprio êxito e abandona a criatura que concebeu. É essa recusa que inaugura a tragédia — não a existência do monstro, mas o abandono. Em “Frankenstein”, a ciência não é vilã. O vilão é o uso irresponsável da ciência — ou, mais precisamente, a fuga do dever humano quando o saber alcança um poder novo.
Esse é exatamente o campo de tensão da ficção científica adulta. A tecnologia não é apenas uma ferramenta. Ela é uma força que reorganiza o tecido social, afetivo, moral. Ao imaginar isso em 1818, Shelley antecipa perguntas que só se tornariam intensas no século XX: o que acontece quando o poder de criar vida cruza o limiar do laboratório e entra no mundo real? Quem responde pelo resultado? A criatura, ou o criador? O romance, portanto, não é um conto moral vago. É uma reflexão filosófica sobre causalidade, responsabilidade e consequências.
Esse debate ecoa hoje — em escala global — nas discussões sobre edição genética, clonagem, IA autônoma, armas algorítmicas, modificação de embriões, sistemas generativos de decisão. A pergunta que move a ética tecnológica contemporânea é a mesma que Mary Shelley formulou, de maneira literária, em 1818: até onde se pode avançar sem assumir o preço humano da inovação?
Por que isso importa hoje
É por isso que, quando del Toro apresenta sua versão de “Frankenstein”, ele não está apenas atualizando um clássico: ele está reconectando o cinema ao momento original em que a ficção científica foi inventada. E essa reconexão é importante porque, no romance, o monstro não é o inimigo. Ele é o resultado de uma criação sem cuidado. Ele deseja afeto, pertencimento, reconhecimento. A tragédia não nasce do corpo animado — nasce da ausência de vínculo. Shelley constrói um drama sobre a responsabilidade ética que acompanha o conhecimento, e sobre a destruição que ocorre quando esse vínculo é negado.
Nesse sentido, “Frankenstein” não envelhece porque sua mitologia não depende da tecnologia da época, e sim da fraqueza humana que permanece invariável. A obra não é datada. Ela é fundacional. Ela estabelece o eixo temático que, até hoje, sustenta o melhor da ficção científica: não o fascínio pelo possível, mas o drama do que esse possível faz com quem nós somos. É por isso que, dois séculos depois, quando pensamos em IA sensível, em entidades digitais autônomas, em sistemas que tomam decisões sobre vidas humanas, retornamos ao mesmo problema: a criação é tecnicamente possível, mas eticamente preparada?
A verdadeira herança de Mary Shelley não é o monstro de parafusos e cicatrizes que Hollywood popularizou ao longo do século XX. É a capacidade de perceber que imaginar o futuro científico não é prever invenções — é interpretar o impacto humano de uma invenção que ainda não existe. “Frankenstein”, nesse sentido, não apenas antecede o sci-fi. Ele define o que o sci-fi pode ser.
E é por isso que, hoje, diante do filme de del Toro, a obra de Shelley continua relevante: porque a pergunta fundadora da ficção científica moderna segue, intacta, desafiante, urgente. Não se trata apenas de imaginar o futuro. Trata-se de assumir responsabilidade por aquilo que somos capazes de criar.